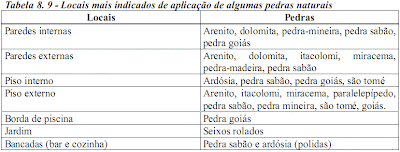O projeto deverá estabelecer os tipos de cimento adequados, técnicamente e economicamente, a cada tipo de concreto, estrutura, método construtivo, ou mesmo, em relação aos materiais inertes disponíveis.
Exemplo de alguns tipos de cimento passíveis de emprego em aplicações específicas:
cimento Portland comum:
- concreto armado em ambientes não agressivos
- lançamento de pequenos volumes ou grandes volumes
- desde que empregados, na mistura, outros aglomerantes ativos (tais como materiais pozolânicos ou escória de alto forno) para redução do calor de hidratação.
- Concreto protendido ou pré-moldado
- Não recomendado para emprego em ambientes agressivos;
- cimento Portland de alta reistência inicial - pré-moldados;
- para descimbramento a curto prazo;
- não recomendado para lançamento de grandes volumes;
- cimento de moderada e alta resistência a sulfatos.
- estruturas em contato com sulfatos
- estruturas em meios ligeiramente ácidos;
- concreto massa;
- pouco recomendável o emprego em estruturas onde sejam necessárias a desforma e o descimbramento rápido
- cimento Portland de alto forno
- recomendável para estruturas em meios ácidos ou sujeitas a ataque de sulafatos e/ou ácidos;
- aplicável a concreto massa;
- possível o emprego com agregados álcali-reativos
- cimento Portland pozolânico.
- recomendável para concreto massa e para uso com agregados reativos com álcalis;
- aplicável a estruturas sujeitas a ataques ácidos fracos ou de sulfatos;
- cimento aluminoso.
- para refratários; em ambientes ligeiramente ácido.
O cimento, ao sair da fábrica acondicionado em sacos de várias folhas de papel impermeável, apresenta-se finamente pulverizado e praticamente seco, assim devendo ser conservado até o momento da sua utilização.
Quando o intervalo de tempo decorrido entre a fabricação e a utilização não é demasiado grande, a proteção oferecida e em geral, suficiente.
Caso contrário, precauções suplementares devem ser tomadas para que a integridade dos característicos iniciais do aglomerante seja preservada.
A principal causa da deterioração do cimento é a umidade que, por ele absorvida, hidrata-o pouco a pouco, reduzindo-lhe sensivelmente as suas características de aglomerante.
O cimento hidratado é facilmente reconhecível. Ao esfregá-lo entre os dedos sente-se que não está finamente pulverizado, constata-se mesmo, freqüentemente, a presença de torrões e pedras que caracterizam fases mais adiantadas de hidratação.
RECOMENDAÇÕES:
O cimento sendo fornecido em sacos, deve-se verificar sua integridade, não aceitando os que estiverem rasgados ou úmidos. Os sacos que contém cimento parcialmente hidratados, isto é, com formação de grumos que não são total e facilmente desfeitos com leve pressão dos dedos, não devem ser aceitos para utilização em concreto estrutural.
Para armazenar cimento é preciso, em primeiro lugar, preservá-lo, tanto quanto possível, de ambientes úmidos e em segundo, não ser estocado em pilhas de alturas excessivas, pois o cimento ainda é possível de hidratar-se (Figura 11.1). É que ele nunca se apresenta completamente seco e a pressão elevada a que ficam sujeitos os sacos das camadas inferiores reduz os vazios, forçando um contato mais intenso entre as partículas do aglomerante e a umidade existente.
Portanto para evitar essas duas principais causas de deterioração do cimento é aconselhável:
1º - As pilhas não excederem de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo 15 dias, caso em que pode atingir 15 sacos.
2º - As pilhas devem ser feitas a 30 cm do piso sobre estrado de madeira e a 30 cm das paredes e 50 cm do teto (Figura 11.1).
 |
| Figura 11.1 - Local para guarda de materiais |
Os lotes recebidos em épocas diferentes e diversas não podem ser misturados, mas devem ser colocados separadamente de maneira a facilitar sua inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento. Deve-se tomar cuidados especiais no armazenamento utilizando cimento de marcas, tipos e classes diferentes. O tempo de estocagem máxima de cimento deve ficar em torno de 30 dias. A capacidade total armazenada deve ser suficiente para garantir as concretagens em um período de produção máxima, sem reabastecimento.
2 Agregados miúdo e graúdo
Devemos tomar o cuidado para que em nossas obras não se receba agregados com grande variabilidade, algumas vezes por motivo de abastecimento ou econômico, daqueles inicialmente escolhidos.
Esta variabilidade prejudica a homogeneidade e características mecânicas do concreto. Se recebemos, com granulometria mais fina que o material usado na dosagem inicial, necessitaremos uma maior quantidade de água para mantermos a mesma trabalhabilidade e, consequentemente, haverá uma redução na resistência mecânica. Se ocorrer o inverso haverá um excesso de água para a mesma trabalhabilidade, aumentando a resistência pela diminuição do fator água/cimento, o qual será desnecessário, pois torna-se antieconômico, além de provocar uma redução de finos, que prejudicará sua coesão e capacidade de reter água em seu interior, provocando exudação do mesmo.
RECOMENDAÇÕES:
Deve-se ao chegar os agregados, verificar a procedência, a quantidade, e o local de armazenamento e devem estar praticamente isentos de materiais orgânicos como humus, etc.... e também, siltes, carvão.
Quando da aprovação de jazida para fornecer agregados para concreto devemos ter conhecimento de resultados dos seguintes ensaios e/ou análises:
· reatividade aos álcalis do cimento (álcali-sílica, álcali-silicato, álcali-carbonato);
· estabilidade do material frente a variações de temperatura e umidade;
· análise petrográfica e mineralógica;
· presença de impurezas ou materiais deletéricos;
· resitência à abrasão;
· absorsão do material
No entanto, no caso de obras de pequeno porte, é praticamente inviável a execução de tais ensaios e análises. Neste caso, deve-se optar pelo uso de material já consagrado no local ou pela adoção de medidas preventivas, em casos específicos (uso de material pozolânicos, por exemplo).
Para evitarmos a variabilidade dos agregados devemos esclarecer junto aos fornecedores a qualidade desejada e solicitar rigoroso cumprimento no fornecimento.
Para o armazenamento dos agregados poderemos fazê-lo em baias com tapumes laterais de madeira (Figura11.2) ou em pilhas separadas, evitando a mistura de agregados de diferentes dimensões, deveremos fazer uma inclinação no solo, para que a água escoa no sentido inverso da retirada dos agregados, e colocar uma camada com aproximadamente 10 cm de brita, 1 e 2 para possibilitar a drenagem do excesso de água.
 |
| Figura 11.2 - Baias de madeira para separar os agregados |
Recomenda-se que as alturas máximas de armazenamento sejam de 1,50m, diminuindo- se o gradiente de umidade, principalmente nas areias e pedriscos, evitando-se constantes correções na quantidade de água lançado ao concreto.
Estando a areia com elevada saturação, deve-se ter o cuidado de verificar no lançamento do material na betoneira, se parte da mesma não ficou retida nas caixas ou latas, pedindo que seja bem batida para a sua total liberação.
3 - Água
A resistência mecânica do concreto poderá ser reduzida, se a água utilizada no amassamento conter substâncias nocivas em quantidades prejudiciais. Portanto, a água destinada ao amassamento deverá ser as águas potáveis.
Do ponto de vista da durabilidade dos concretos, o emprego de águas não potáveis no amassamento concreto pode criar problemas a curto ou longo prazo.
Se, para o concreto simples, o uso de águas contendo impurezas, dentro de certos limites, pode não trazer conseqüências danosas, o mesmo não ocorre com o concreto armado, onde a existência de cloretos pode ocasionar corrosão das armaduras, além de manchas e eflorescências superficiais.
4 - Armaduras
Os problemas existentes com as barras de aço é a possibilidade de corrosão em maior
ou menor grau de intensidade, em função de meio ambiente existente na região da obra, o que
provoca a diminuição da aderência ao concreto armado e diminuição de seção das barras.
No primeiro caso, esta diminuição é provocada pela formação de uma película não
aderente às barras de aço, impedindo o contato com o concreto. No segundo caso de
diminuição de seção, o problema é de ordem estrutural, devendo ser criteriosamente avaliada a
perda de seção da armadura.
RECOMENDAÇÕES:
Meios fortemente agressivos (regiões marítimas, ou altamente poluídas):
- Armazenar o menor tempo possível;
- Receber na obra as barras de aço já cortadas e dobradas, em pequenas quantidades;
- Armazenar as barras em galpões fechados e cobertos com lona plástica;
- Receber as armaduras já montadas;
- Pintar as barras com pasta de cimento de baixa consistência (avaliar a eficiência periodicamente).
Meios mediamente agressivos :
- Armazenar as barras sobre travessas de madeira (Figura 11.3) de 30 cm de espessura, apoiadas em solo limpo de vegetação e protegido de pedra britada.
- Cobrir com lonas plásticas;
- Pintar as barras com pasta de cimento de baixa consistência.(avaliar a eficiência periodicamente);
Obs.: As barras que foram pintadas com camadas de cimento, para sua utilização na estrutura deverão ser removidas, a qual pode ser feito manualmente através de impacto de pedaço de barra de aço estriada e ajudar a limpeza através de fricção das mesmas.
Meios pouco agressivos:
- Armazenar as barras em travessas de madeira (Figura 11.3) de 20 cm de espessura, apoiadas em solo limpo de vegetação e protegido por camada de brita.
 |
| Figura 11.3 - Armazenagem das barras de aço sobre travessas |
Para a limpeza das barras com corrosão devemos fazer em ordem de eficiência:
- jateamento de areia;
- limpeza manual com escova de aço;
- limpeza manual com saco de estopa úmido.
Tipos de aço:
Os aços estruturais de fabricação nacional em uso no Brasil podem ser classificados em três grupos:
· Aços de dureza natural laminados a quente: utilizados a muito tempo no concreto armado. Nos dias de hoje possui saliências para aumentar a aderência do concreto.
· Aços encruados a frio: obtidos por tratamento a frio trabalho mecânico feito abaixo da zona crítica, os grãos permanecem deformados aumentando a resistência.
· Aços para concreto protendido: aços duros e pertencem ao grupo de aços usados para concreto protendido. Pode ser encontrado em fios isolados ou formando uma cordoalha.
No Brasil a indicação do aço é feita pelas letras CA (concreto armado) seguida de um número que caracteriza a tensão de escoamento em kg/mm². Segue ainda uma letra maiúscula A ou B, que indica se o aço é de dureza natural ou encruado a frio.
OBS.: O comprimento usual das barras é de 11, com tolerância de mais ou menos 9%. E sua
unidade é em milímetros (Tabela 11.1).
 |
| Tabela 11.1 - Bitola dos aços em "mm" e respectivos pesos por metro |